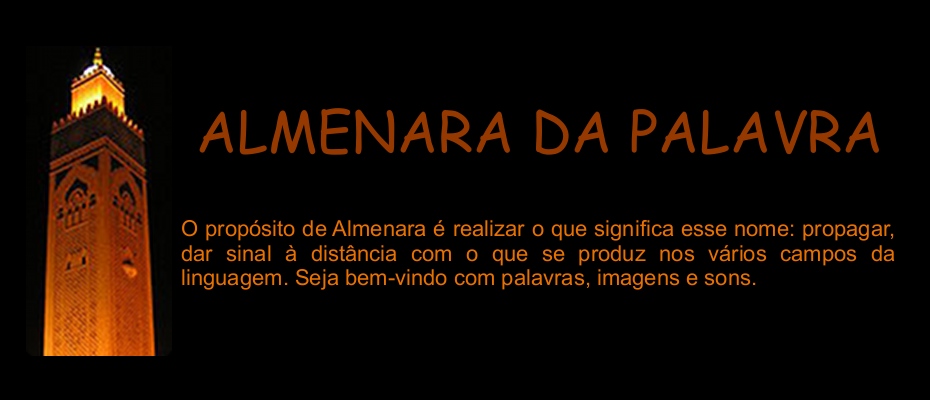Nos primeiros ensaios que escreveu, Virginia Woolf
declara sua admiração por Dostoievski, que expressou “o tumulto mental”,
segundo ela o seu “material”, assim como dela e ausente, pelo menos, em quem a
criticou numa resenha de O quarto de
Jacob, o romancista inglês Arnold Bennett, na qual disse: “A fundação da
boa ficção é a criação do personagem, nada mais”.
Woolf não contestou essa evidência, porém a maneira
com que Bennett tentou construir o personagem, com “aparências externas”,
faltando a ele o essencial, “o caráter”, as luzes e as sombras da mente do
personagem. O importante para Woolf foi, segundo suas palavras, “compreender o
seu caráter, mergulhar em sua atmosfera”.
A observação de Woolf pode servir para alguns escritores
ingleses anteriores a ela e de seu tempo, não para os irlandeses, sobretudo
James Joyce.
Como se sabe, Ulysses,
ao ser publicado em 1922, foi atacado de todos os lados, além de ter sido
proibido em vários países. E Bennett, de plantão obtuso como sempre, criticou
Joyce apesar de ter ficado impressionado com o monólogo de Molly Bloom e a
sequência em Nightown: qualquer um poderia escrever sobre coisas tão ordinárias
desde que tivesse “tempo, papel, capricho e teimosia infantis suficientes”.
Woolf, que foi duramente criticada por Bennett, também criticou Joyce da mesma
forma como criticaria qualquer inglês: Ulysses,
a obra de “um estudante nauseado espremendo suas espinhas”. Apesar da
excelência literária de Woolf, ela não conseguiu esconder sua má-consciência em
relação à condição da Irlanda.
O que de fato Joyce teve foi a consciência ampliada de
um problema exterior à ficção, a subsunção dos irlandeses, da qual, e apesar do
nacionalismo, despreenderam-se forças anárquicas que coincidiam com as do mundo
moderno e, em particular, desencadeadas por todas as vanguardas com suas
linguagens que, ao denunciarem a crise geral da cultura europeia, criaram as
linguagens de um novo tempo, a do caos da própria ideia de modernidade que
naufragou em meio a todas as modernizações. Por esta, e por outras, cinquenta
anos após a publicação de Ulysses,
várias universidades inglesas ainda não admitiam a obra nos cursos de
graduação.
No primeiro episódio, na breve e vertiginosa primeira
parte de Ulysses, a da torre, a
principal recorrência nesse sentido não poderia deixar de ser Oscar Wilde,
irlandês da sepa como Joyce, criados por si mesmos, e com a legítima arma, a
ironia shakespeariana que transcorre no diálogo entre Sthepen Dedalus e Buck
Mulligan, que surrupiou o espelho no quarto da arrumadeira, oferecido a ele que
se interroga como se vê e como os outros o veem. E Mulligan:
–
A ira de Caliban ao não ver o seu rosto no espelho, ele disse. Ah se o Wilde
estivesse vivo pra te ver!
Recuando
e apontando, Sthepen disse com amargura.
–
É um símbolo da arte irlandesa. O espelho rachado de uma criada.
A arte de Sthepen Dedalus, é a teologia que, logo em
seguida, se reconhece como inversa, baldada, um “neopaganismo” de homens
estranhos sob o signo de “omphalos”,
termo enigmático de propósito epifânico de Joyce na saga de Dedalus-Telêmaco
como é sua enteléquia, a realidade em vias de se realizar através da linguagem
teleológica.
O termo onfalo
refere-se ao umbigo, tendo acepções que cabem perfeitamente a Dedalus à procura
de si no espelho partido, sendo para ele a metáfora da torre, ao mesmo tempo em
que nele fica subentendido a onfalomancia,
a adivinhação do número de filhos anunciado pelo número de nós no cordão
umbilical; o onfalópsico, o membro de
uma seita antiga, quietista, que acreditava entrar em contato com o divino
através da contemplação do umbigo; e o onfalóptico,
o cristal óptico biconvexo. Dedalus, que é o próprio Joyce desde livros
anteriores, é a consciência ainda “não criada”, porém desviando-se de qualquer
culpa, pois, afinal, contrariou o desejo da mãe, rezar por ela à beira da
morte. “Por quê?”, pergunta e responde Mulligan: “Porque você tem o maldito do
sangue jesuíta, só que injetado ao contrário”. E Dedalus sai, aos poucos, das
“feridas escancaradas que as palavras lhe deixaram no peito”, que feriu a si
mesmo, não à mãe, ele que deveria construir-se por conta própria, com engenho e
arte em seus caminhos intrincados e na torre nos penhascos que lembravam
Elsinore como explicou Haines a ele, perguntando o que pensava sobre Hamlet.
Uma interpretação teológica de Tomás de Aquino entra
no diálogo sobre pai e filho, o filho que luta contra o pai para se redimir, para
não cumprir a sua destinação, o que Mullingan referencia como uma prova
algébrica “que o neto de Hamlet é avô de Shakespeare e que ele mesmo é o
fantasma do próprio pai”. Amiúde Wilde falava na concepção shakespeariana de si
mesmo, do conceber-se “a si próprio” com o exagero idiossincrático da
personalidade na arte de ser, um Shakespeare no pai morto e no filho o fantasma
que vai abolir assim como Joyce faz de Dedalus que se desvia do papel de herdeiro, justamente o seu símbolo.
Ainda no diálogo com Haines, Dedalus tem atrás de si o
daimon “chamado Steeeeeeeeeephen”, eco
de seu nome, arremessado para frente com a paixão de que tudo é capaz,
incorporando-se de linguagem livre e futura, a mesma exprimida por Joyce na
carta a seu irmão Stanislaus ao desconfiar de qualquer herói e que nada poderia
substituir “a paixão individual como força motriz de tudo”. Dedalus na
Biblioteca Nacional, 16 de junho de 1904, o dia em que ocorre Ulysses, ao ter o passado do futuro se
vê a si mesmo como projeção do que será.
O daimon de
Telêmaco, no primeiro canto da Odisseia,
é a atribuição de um ser intermediário e intermediador dos deuses e dos homens,
porém guiado pela deusa transfigurada em um ancião, Mentes, hóspede e amigo de
seu pai e que o guia, conforme Werner Jaeger, na solução do “íntimo conflito
entre as paixões cegas e a mais perfeita intuição, tido como o autêntico
problema de toda a educação no mais profundo sentido da palavra”. O que está
atrás de Dedalus é a eudaimonia, a
felicidade, mas há o sol de um império que “nunca se põe” para a surpresa do
professor Deasy, que incita os alunos com legendas cívicas do reino, gritando:
“Isso não é inglês. Foi um celta francês que disse isso”. O que é dos ingleses
é irresponsável na responsabilidade de Dedalus.
–
Eu tenho medo dessas palavras grandes, Stephen disse, que nos deixam tão
infelizes.