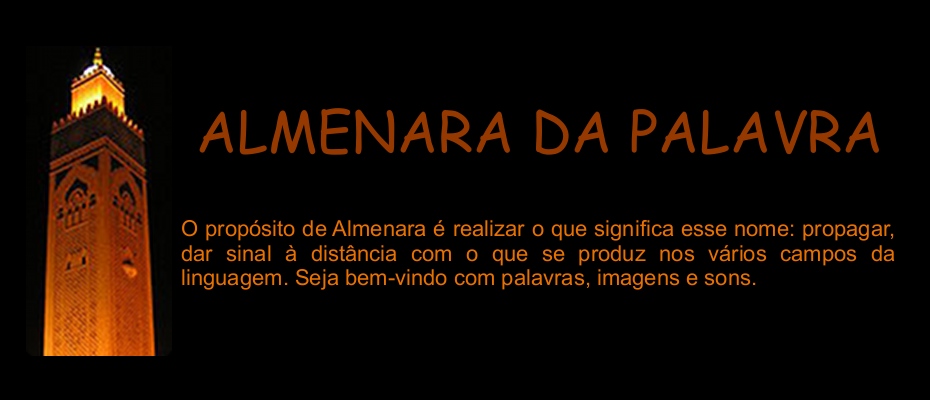O romancista norte-americano nascido em Chicago, Saul
Bellow (1915-2005), filho de imigrantes judeus vindos de São Petersburgo para o
Canadá e depois para os Estados Unidos, foi um dos autores preferidos da grande
massa de leitores exigentes na segunda metade do século passado. Um de seus
romances mais brilhantes -- O legado de Humboldt – está sendo relançado
agora pela Companhia das Letras, em nova tradução de Rubens Figueiredo.
O lançamento desse romance deu-se em 1975 e, no ano
seguinte, Bellow abiscoitava com todo o mérito o Premio Nobel de Literatura.
Nos 30 anos mais produtivos da carreira iniciada com o lançamento de Por um
fio (1944), em plena Segunda Guerra Mundial, ele escreveria também A
vítima (1947), As aventuras de Augie March (1953), Aqui e agora (1956),
Henderson, o rei da chuva (1959), Herzog (1964), O planeta do
Sr. Sammler (1970) e Dezembro fatal (1982), entre outros volumes de
contos, ensaios, memórias e relatos de viagem.
Os primeiros romances de Saul Bellow foram publicados
no Brasil, em 1976, pela antiga Bloch, comandada pelo igualmente imigrante
russo – Adolfo Bloch --, que deve ter sido aconselhado a editar os livros do
norte-americano. É que nessa época Bellow já desfrutava do tratamento
dispensado aos verdadeiramente grandes.
A consagração de Bellow veio na trilha aberta pela
fertilíssima geração que tivera Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John
Steinbeck e Erskine Caldwell e, alguns anos antes William Faulkner, John dos
Passos, Sherwood Anderson e Howard Fast, para citar uns poucos (e bons).
Com o aparecimento da Nova Fronteira, editora
organizada pelo ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, os romances
seguintes de Bellow passaram a sair sob esse selo editorial, responsável pelo
lançamento de renomados autores europeus e norte-americanos, assim como de
notáveis brasileiros.
O legado de Humboldt é uma mistura de Shakespeare, Walt Whitman, Tolstoi, Dostoiévski e
Henry James, entremeada por eruditas citações da filosofia grega, especialmente
Platão, constantes alusões a Proust, Kafka, Joyce e outros mestres europeus,
além da sombra marcante de George Steiner, divulgador da antroposofia e
da filosofia natural, na época, um dos temas que faziam a cabeça dos descolados
de Greenwich Village, em Nova York, e a partir daí para todo o ocidente.
Bellow também voltava seu interesse para a
psicanálise, ciência relativamente nova inventada por Freud, que exercia forte
influência sobre norte-americanos abastados que se moviam, aos magotes, na direção
dos divãs de afamados analistas, em busca de soluções para as esquisitices da
cuca.
A saga inicia com o estupendo sucesso do poeta Von
Humboldt Fleisher (o nome foi copiado por sua mãe de uma estátua do Central
Park), cuja fama instantânea veio com a publicação de Baladas do arlequim.
Humboldt tornou-se celebridade com presença obrigatória nas seções literárias
dos principais jornais, com direito a fotos nas revistas Time e Newsweek.
Choviam convites para palestras em universidades e, afinal, para a cátedra de
literatura de Princeton, embora sua passagem aí tenha sido abreviada porque a
essa altura o poeta passara a desenvolver séria inclinação para a loucura.
Na vida real, Bellow seria testemunha do processo de
absorção de filhos e netos de imigrantes judeus pela sociedade e estilo de vida
norte-americano ao encarnar a condição de romancista eminentemente judeu e,
assim, narrador privilegiado dessa expressiva realidade antropológica (uma de
suas paixões), ao transformar o microcosmo em macrocosmo, no dizer autorizado
do historiador Eric Hobsbawn, mesmo tratando de outro contexto. Bellow projetou
essa experiência nos personagens Von Humboldt Fleisher e Charles Citrine,
ilustrando a crônica familiar dos tipos mais estereotipados de judeus de
segunda e terceira geração já mergulhados nos negócios, nas profissões
liberais, na vida intelectual ou artística e até no crime.
Um personagem de sua primeira narrativa havia
declarado “sou judeu, filho de imigrantes”. E, décadas de sucesso depois, a
mesma declaração voltou a aparecer na fala confiante de outro personagem: “Sou
norte-americano, nascido em Chicago”.
Citrine era um jovem universitário do Meio Oeste que
pensava e falava de literatura o dia todo. Pediu trinta dólares emprestados à
namorada e comprou uma passagem da Greyhound com destino a Nova York numa
viagem que durou 50 horas. Seu objetivo era conhecer Von Humboldt Fleisher, o
poeta, de quem logo se tornou amigo inseparável. Na verdade, por sugestão de
Humboldt, uma amizade que os transformaria em irmãos de sangue. E o penhor
disso foi a troca de cheques em branco com o compromisso de que jamais fossem
apresentados aos respectivos bancos, mesmo porque ambos estavam muito bem de
vida, ganhando os tubos com livros, conferências, resenhas, matérias especiais
em publicações chiques e, no caso de Citrine, com a caudalosa bilheteria da
peça Von Trenck que ficou um ano inteiro em cartaz na Broadway.
Mais ou menos no final do primeiro terço do livro,
Humboldt, depois de gradativa decadência na vida literária e uma série de
detenções pela polícia e internamentos em hospitais de doentes mentais, acaba
morrendo em abjeta miséria, abandonado pela mulher e pelos antigos admiradores,
incluindo Citrine. Este já havia se mudado para Chicago, mas numa de suas
visitas a Nova York viu Humboldt pela última vez, entre as ruas 47 e 48, meio
escondido atrás dos carros estacionados no meio fio. O poeta envelhecido,
barbudo e cabeludo, malvestido e sujo, mastigava um palito de pretzel.
Poucos dias depois Citrine abre o New York Times e
se depara com o longo obituário do querido amigo que abandonara e com quem
evitou falar, não por outros motivos senão pelas explosões de ciúme, cólera,
inveja, maledicência e toda sorte de ofensas morais. A loucura de Humboldt foi
algo tão estarrecedor que ele chegou a ser dispensado da cátedra em Princeton.
Ninguém mais o suportava, a começar pela mulher Kathleen, que volta e meia
aparecia com um olho roxo. Um dia pegou suas coisas e deu no pé.
Daí em diante Bellow passa a contar a história de
Citrine, intelectual endinheirado pelo amplo sucesso dos livros e da peça Von
Trenck, na verdade inspirada na vida de Humboldt, sendo os direitos logo
vendidos para o cinema. A bilheteria chegava a render para o autor até oito mil
dólares por semana, levando-o a lamentar que “o governo, que jamais manifestara
interesse prévio por minha pessoa, exigiu imediatamente setenta por cento sobre
o fruto do meu esforço criador”. E, algum tempo depois, uma conjura entre o
advogado de sua ex-mulher, Denise e um juiz da vara das famílias, Urbanovich,
“um ucraniano gordo e careca”, fez com que sua pequena fortuna fosse reduzida a
míseros quatro mil dólares.
No capítulo rabos de saia Citrine era especialista.
Desde a primeira namorada, Naomi Lutz, que subsidiou a viagem a Nova York,
passaram por sua lábia além de Denise com quem se casou e teve duas filhas
(Mary e Lish), em épocas diferentes ou ao mesmo tempo Demmie Vonghel, Doris
Scheldt e Renata Koffrittz. A última era uma voluptuosa gata com a metade da
idade de Citrine, que a descreveu com fino humor: “Estávamos agora no aeroporto
Kennedy e, com seu chapéu incomparável e seu casaco comprido de camurça, sua
echarpe da Hermès, suas botas elegantes, ela estava tão apta a ser mantida na
privacidade e na discrição quanto a Torre de
Pisa”.
A parte final do romance é eletrizante porque o
panorama cinzento e decadente da vida de Charles Citrine, assim como acontecera
com seu amigo Humboldt, é atingido por uma virada enternecedora armada, anos
antes, pelo louco de Greenwich Village. Acostumado a vestir-se nos
melhores e mais caros alfaiates e que só usava camisas feitas sob medida e
gravatas de seda, chutado por Renata, Citrine vivia agora nos fundos duma
pensão de terceira em Madri “na posição de um velho gagá que se comporta como
um adolescente. Mais careca e enrugado do que nunca, e os cabelos brancos
haviam começado a crescer, compridos e selvagens nas sobrancelhas”.
Foi no meio dessa barafunda que Citrine descobriu o
legado de Humboldt. Um filme chamado Caldofredo, baseado num roteiro que
ambos haviam escrito de brincadeira numas férias em Princeton, que lotava
cinemas em Londres e Paris. O roteiro chegara às mãos dos produtores por lances
fortuitos, mas Citrine podia provar a coautoria já que Humboldt tivera a
astúcia de mandar pelo correio uma cópia para si mesmo. E o envelope foi
guardado por um tio de Humboldt, a essa altura num asilo de velhos, até que
Citrine foi buscá-lo entre outros papeis deixados pelo poeta.
Os advogados conseguiram uma boa indenização paga
pelos produtores e foi com parte desse dinheiro que Citrine cumpriu a promessa
feita ao velho tio de Humboldt. Dar a ele e à mãe, mesmo depois de muitos anos,
um sepultamento digno. Afinal, o tio Waldemar tinha dito ao entregar os papeis:
“Se este legado tiver algum valor, o primeiro dinheiro deveria ser empregado em
desenterrar Humboldt e transferi-lo”.
A última coisa que Citrine viu do amigo foi o ataúde
descendo e um pequeno guindaste, com um zumbido rouco, agarrando uma lousa de
concreto para depositá-la em cima da caixa de concreto aberta. O diretor do
funeral perguntou se alguém tinha uma oração a fazer e Citrine pensou com seus
botões: “Ninguém parecia ter ou conhecer alguma”.
* Escritor e jornalista